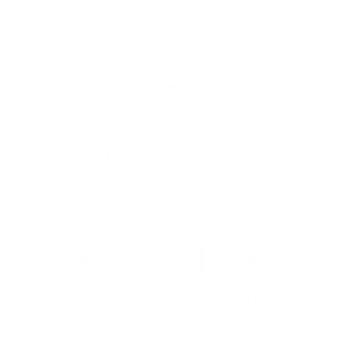I – INTRODUÇÃO
Como se sabe, o surgimento do direito, como conjunto integrado de normas e sanções hábeis a pacificar conflitos, se confunde com a própria evolução humana. De fato, a viabilidade dos agrupamentos sociais só se tornou possível mediante a vigilância, a prevenção e a retribuição das condutas consideradas reprováveis.
Na perfeita análise de Beccaria[1]:
“(…)
As leis são condições sob as quais homens independentes e isolados se uniram em sociedade, cansados de viver em contínuo estado de guerra e de gozar de uma liberdade inútil pela incerteza de sua conservação. Parte dessa liberdade foi por eles sacrificada para gozar o restante com segurança e tranquilidade. A soma dessas porções de liberdade sacrificada ao bem comum forma a soberania de uma nação e o soberano é o seu legítimo depositário e administrador.
(…)”
Em outras palavras, não se concebe convivência sem regras.
Note-se que até mesmo infratores da lei, quando organizados para a prática de crimes, ou mesmo quando simplesmente reunidos em prisões, por, supostamente, terem infringido regras, paradoxalmente, criam e impõem normas uns aos outros, justamente para que a convivência se torne minimamente palatável, sendo sua eventual desobediência cobrada com os rigores que lhes são ínsitos.
Portanto, o direito, com suas normas e sanções, é necessário a qualquer organização humana, sendo indispensável à constituição, manutenção e evolução das sociedades modernas.
Por outro lado, não há necessidade e é até impraticável que o Estado preveja e discipline a verdadeira infinidade de possibilidades do comportamento humano.
Com efeito, o conjunto de regras de uma sociedade deriva dos vários aspectos de sua cultura, de modo que nem todas essas regras precisam ser tuteladas pelo direito. Por exemplo, se alguém manifesta um comportamento levemente inconveniente em uma igreja, pode sofrer uma censura do grupo, do dirigente, ou ainda, ser convidado a se retirar, sem que haja, necessariamente, alguma intervenção estatal.
Desse modo, o Estado procura manter a paz social por meio de normas que visam tutelar apenas os bens jurídicos basicamente essenciais à manutenção da vida em harmonia.
Mesmo porque, justiça é algo que caminha bem, quando deflui naturalmente dos comportamentos dos cidadãos, baseados, por exemplo, no bom senso, amor, gratidão, solidariedade, respeito mútuos, etc. Mas as vicissitudes humanas, do mesmo modo, estão sujeitas à vaidade, egoísmo, ódio, falta de respeito e outros vícios, que levam à necessidade do exercício coercitivo da justiça, pelo Estado.
Ocorre que impor justiça, de um homem para outro, por mais que se esforce, é tarefa deveras difícil, pois uma decisão justa e perfeita é tarefa além de tudo, divina.
Nossa reflexão se detém a analisar os critérios historicamente adotados na incessante busca pela aplicação da justiça em matéria penal e a realidade brasileira no atual cenário jurídico.
II – FASE MÍSTICA OU RELIGIOSA
Os sumo-sacerdotes hebreus antigos, desde Melquisedeque, rei de Salém[2], tinham por cultura consultar a vontade de Deus lançando a sorte, por intermédio de duas pedras, denominadas Urim e Tumim[3].
Séculos mais tarde, o Ocidente mergulhado na chamada “Idade das Trevas”, testemunhou o ressurgimento de tais práticas para várias necessidades do cotidiano, dentre eles, para os julgamentos penais.
Os chamados Juízos de Deus eram baseados na crença de que “Deus interfere para dar razão a quem tem”[4].
Assim, as ordálias, – métodos mais comumente aplicados, destinados principalmente a pessoas menos influentes – eram julgamentos onde o destino do réu era lançado à sorte de acordo com algum evento da natureza. Por exemplo, amarravam o acusado a uma pedra e o atiravam a um lago, com mãos e pés atados. Se fosse inocente, acreditavam que Deus o faria boiar ou o ajudaria a se desvencilhar.
Não havia valor nos testemunhos ou outros meios de prova, pois tinham a convicção em Deus como único e justo juiz.
Os tipos de julgamentos por ordália mais comuns eram: combate, água, envenenamento, grama, ingestão, crucificação e fogo. “Se o réu conseguisse sair vivo, com ferimentos leves, significava que isso era uma resposta divina, e Deus havia impedido a punição. Por esse motivo, muitos assumiam seus crimes antes de serem submetidos ao julgamento, ainda que fossem inocentes, porque isso era melhor do que desafiar Deus e brincar com um processo do qual não sairiam inteiros ou vivos.”[5]
Incrível como ao longo dos anos – e até mesmo nos dias atuais – o homem vem sendo capaz de cometer atrocidades em nome de Deus, quando, paradoxalmente, a maioria das religiões tem por fundamento o amor ao próximo.
Tamanha era a bizarrice de tais procedimentos, que muitos dos próprios religiosos da época eram contra tais práticas, as quais foram, por exemplo, condenadas pelo Papa Inocêncio III, no Quarto Concílio de Latrão, até que finalmente foram abolidas pelo Sacro Imperador Romano Frederico II, que as considerou irracionais[6].
E os motivos são óbvios, mormente, em se tratando de práticas cristãs, porquanto a absolvição em tais procedimentos exigiria um verdadeiro milagre, o que contraria o preceito bíblico insculpido em Deuteronômio 6:16 “Não tentarás o Senhor teu Deus…”, preceito esse que segundo a tradição cristã foi utilizado pelo próprio Jesus Cristo para se defender dos ataques de seu adversário, na passagem da grande tentação (Evangelho de Mateus, 4:7).
Os óbvios clamores por justiça em muitos desses casos fez evoluir a ciência penal para um procedimento cada vez mais técnico e racional, conforme veremos a seguir.
III – FASE DA TARIFA LEGAL
Também conhecida como da certeza moral do legislador, ganhou notoriedade como o primeiro sistema de avaliação da prova[7].
Tal sistema consistia na elaboração de critérios bem objetivos de valoração das evidências, previamente definidos pelo legislador, os quais serviam para orientar e vincular a decisão do juiz.
As provas eram, pois, sopesadas de acordo com uma espécie de tabela – as tarifas legais –, havendo uma evidente hierarquia entre elas, surgindo daí o conceito de ser a confissão a “rainha das provas” (regina probationum).
De acordo com esse método, a discricionariedade do juiz na análise dos fatos era praticamente inexistente, de modo que, muitas vezes, o magistrado era obrigado a julgar contra a própria convicção, por estar obrigado a reconhecer o valor maior das provas apresentadas pela parte vencedora. No dizer de Moacyr Amaral Santos[8]:
“(…) no sistema da prova legal, a instrução probatória se destinava a produzir a certeza legal. O juiz não passava de um mero computador, preso ao formalismo e ao valor tarifado das provas, impedido de observar positivamente os fatos e constrangido a dizer a verdade conforme ordenava a lei que o fosse. No depoimento de uma só testemunha, por mais idônea e verdadeira, haveria apenas prova semiplena, enquanto que nos de duas testemunhas, concordes e legalmente idôneas, ainda que absurdos fatos narrados, resultaria prova plena e, pois, certeza legal”.
O sistema tarifário, apesar de suas fragilidades, tinha por escopo maior proteger o acusado dos eventuais abusos do juiz. Entretanto, numa época em que se permitia a tortura como meio de obtenção de prova e tendo a confissão no topo das tarifas legais, o que deveria proteger, na prática, funcionou de forma inversa, especialmente quando o juiz desejava a condenação e as provas legais apontavam o resultado inverso, não restando ao magistrado outra alternativa a não ser flagelar o acusado até obter a confissão. No dizer de Jacinto Nelson de Miranda Coutinho[9]:
“(…) muitas legislações aceitaram a previsão da possibilidade de o juiz incorrer em erro, no momento de valoração dos meios de prova utilizados, razão pela qual se fixou, na lei, uma hierarquia de valores referentes a tais meios. Veja-se, neste sentido, o sistema processual inquisitório medieval, no qual a confissão, no topo da estrutura, era considerada prova plena, a rainha das provas (regina probationum), tudo como fruto do tarifamento previamente estabelecido. Transferia-se o valor do julgador à lei, para evitar-se manipulações; e isso funcionava, retoricamente, como mecanismo de garantia do arguido, que estaria protegido contra os abusos decorrentes da subjetividade. Sem embargo, a história demonstrou, ao revés, como foram os fatos retorcidos, por exemplo, pela adoção irrestrita da tortura”.
As críticas à falta de liberdade de análise e decisão do magistrado, bem como, o florescimento dos ideais iluministas contrastando com a repulsa pelas práticas judiciárias desumanas, aos poucos, fez com que o sistema tarifário fosse substituído por outros que contemplassem um processo penal cada vez mais justo e democrático.
IV – FASE SENTIMENTAL OU DA CERTEZA MORAL DO JUIZ
Esse é o chamado sistema da convicção íntima ou do livre convencimento, aquela opinião formada desde sempre pelo juiz (e certamente, por cada um de nós) a partir do momento em que se tem contato com os autos, mas que legalmente só pode ser exteriorizada no momento da prolação da sentença.
Ao contrário do que previa o sistema tarifário, quando o juiz detinha mínima discricionariedade, pelo sistema do livre convencimento, o juiz é absolutamente livre para decidir, dando todo ou nenhum valor às provas produzidas, podendo, inclusive, formar sua convicção com base em impressões estranhas aos autos, uma vez que não é obrigado a justificar o âmago de sua decisão.
Por esse modo, é muito comum o juiz valer-se de aspectos morais, que normalmente nem são discutidos nos autos, pois estão circunscritos à sua experiência pessoal, como aspectos profissionais – em julgamentos realizados na Justiça Militar – religiosos, filosóficos, de cunho deontológico, etc.
Por esse sistema, o esforço das partes consiste em convencer o juiz, seja lá com qual espécie de argumento for. A persuasão é mais importante que a prova; e a verdade se acomoda em segundo plano em cenários onde a razão costuma dar lugar à emoção.
É o sistema utilizado ainda no Tribunal do Júri, onde o jurado, quando chamado a decidir, o faz, por íntima convicção, sem necessidade de motivar seu voto.
Contudo, em se tratando de juízo singular, não é difícil imaginar os problemas que naturalmente viriam a surgir com a adoção do princípio da íntima convicção para o julgamento de toda e qualquer causa, problemas esses que não se circunscreveriam às instâncias originárias, pois o exercício recursal igualmente seria dificultado por não se conhecerem os fundamentos da decisão a quo.
Tais dificuldades, decorrentes da absoluta falta de mecanismos hábeis a proteger o acusado do arbítrio do juiz, incompatibilizaram o sistema da íntima convicção com o processo penal humanizado e democrático, sendo hoje reservado a raras exceções, como já dito, ao Tribunal do Júri, ainda assim, sendo feito sob certos cuidados como, julgamento colegiado, presidência de um juiz togado incumbido de presidir a sessão e elaborar os quesitos, possibilidade de recurso de mérito e revisão de julgado manifestamente contrário à prova dos autos, etc.
V – DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CRÍTICAS AO SISTEMA ADOTADO NO DIREITO BRASILEIRO
Visando suprir as deficiências do sistema da íntima convicção, surgiu no direito moderno o sistema do livre convencimento motivado, também conhecido como da livre convicção ou da persuasão racional.
Por esse sistema “os juízes possuem capacitação técnica e podem socorrer-se do conhecimento de técnicos de outras áreas quando a prova depender de saberes alheios à sua capacitação”[10]. O juiz possui ampla discricionariedade na apreciação da prova, valorando cada uma como melhor lhe convier. No entanto, tem o dever de fundamentar sua decisão, justificando os relevantes motivos de fato e de direito que o levaram a decidir.
Assim, o esforço de cada parte, embora empenhado precipuamente na persuasão do magistrado, está muito mais comprometido com a busca da verdade, porquanto a prova não é somente produzida para o juiz que preside a instrução, mas também para as demais partes do processo e para outros juízes que poderão apreciar a causa em sede recursal.
Sem dúvida, uma grande evolução, se comparado aos sistemas anteriormente demonstrados. E, embora seja o sistema vigente a inspirar as legislações processuais contemporâneas, ainda sofre críticas, por conter certa dificuldade em controlar os arbítrios judiciais.
Até porque infelizmente, há muitos que confundem liberdade na valoração da prova com arbitrariedade.
Tal liberdade excessiva permite muitas vezes que o julgador elabore intimamente sua convicção e apenas utilize esta ou aquela evidência, não como fundamento, mas como pretexto de uma decisão muitas das vezes já edificada em fases anteriores, servindo o processo, a partir daí, como mera formalidade apta a legitimar sua já convicta decisão.
Algo realmente difícil de mensurar e controlar.
Em se tratando de atividade jurisdicional, liberdade ampla não significa que é plena.
Nesse diapasão, observa-se sensível evolução na legislação processual civil brasileira. O artigo 131 do CPC/1973 trazia como regra geral aplicável à valoração da prova o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual:
“O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, e indicando sempre, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento”. (grifamos)
Já o artigo 371 do CPC/2015, por sua vez, dispõe:
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”.
A redação do artigo 371 do atual Código de Processo Civil Brasileiro, embora tenha trazido mudança sutil, a nosso ver, muito mais se afina aos ditames constitucionais da Carta Política de 1988, pois, ao suprimir o termo “livremente” de sua redação anterior, transmite a noção de que não é sempre, na valoração da prova, que o juiz terá a possibilidade de livremente apreciá-la. Não só a prova livre convive com a prova legal, como desta vez, o legislador ordinário, na vereda dos ditames constitucionais, avisa ao magistrado que sua liberdade pra decidir nunca foi, de fato, plena.
Nosso Código de Processo Penal, por sua vez, trazia na redação de 1941 o artigo 157:
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova.”
Com a reforma trazida pela Lei nº 11.690/2008, o tema passou a ser tratado no artigo 155, cuja redação passou a prever:
“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”
Embora permaneça o termo “livre” no que diz com a apreciação da prova, percebe-se o claro esforço do legislador ordinário em alinhar o nosso sistema processual aos ditames introduzidos pela Constituição Cidadã, notadamente, o direito ao contraditório e ampla defesa garantido aos litigantes e acusados em geral, com os meios e recursos a ela inerentes (CF, art. 5º, LV).
É um sistema que busca, ao máximo prevenir decisões arbitrárias que, infelizmente, ainda teimam em ocorrer.
Embora o juiz tenha certa liberdade na apreciação da prova, todavia, deve fundamentar sua decisão com base nos elementos contidos nos autos – quod non est in actis non est in mundo.
Apesar disso, infelizmente ainda grassam no nosso sistema judiciário decisões herdeiras da fase da íntima convicção, cujos verdadeiros motivos ensejadores do convencimento do magistrado são completamente alheios aos autos e, muitas das vezes, até mesmo, às partes. Menos mal quando ainda o magistrado dá à parte a chance de conhecê-los, eivando pois de nulidade absoluta o decisum que, certamente há de ser reformado. Nas palavras de José Frederico Marques[11]:
“o juiz deve decidir com relação à sã crítica, não tem a liberdade de raciocinar discricionariamente, arbitrariamente. O livre convencimento deve conjugar a lógica e a experiência, sem excessivas abstrações de ordem intelectual, mas observando sempre os preceitos e métodos que tendem a assegurar o mais acertado e eficaz raciocínio”
Ademais, conhecer os fundamentos de uma decisão, nada mais é do que dar vida ao contraditório, uma vez que a parte, ao recorrer, terá que se opor aos argumentos, doravante, também do magistrado.
E nada mais justo que tais argumentos defluam da prova produzida nos autos, onde se ofereçam à oportunidade do amplo debate entre as partes, o que não se vislumbra quando o juiz se vale de argumentos morais em sua decisão.
VI – CONCLUSÃO
Fazer justiça não parece mesmo ser ato humano, pois tal, falho e injusto por natureza, como pode impor perfeição a seu semelhante? Talvez por isso, fazê-la com as próprias mãos seja crime, previsto no Código Penal como “exercício arbitrário das próprias razões”, motivo pelo qual tal injunção reserva-se ao poder estatal.
Mas, ainda que representando o Estado, algum humano haverá de fazê-lo, pois, como dito, sem justiça, não há paz social. Seja um cidadão comum, convocado ao Tribunal do Júri, seja ainda um Oficial convocado ao Tribunal Militar, seja um membro do Ministério Público ou da OAB com notório saber jurídico, alçado a um de nossos tribunais; seja, por fim um juiz togado, de carreira, tecnicamente formado e preparado para tão nobre e, ao mesmo tempo, árduo mister de julgar.
A todos estes juízes competem indistintamente o poder-dever de pacificar conflitos, de procurar caminhar entre a sabedoria de Salomão que ordenou brilhantemente que se partisse uma criança ao meio, com o fito de que isso revelasse sua verdadeira mãe; a misericórdia de Cristo, que, diante de Maria Madalena concitou seus algozes a atirar a primeira pedra ao que fosse livre de pecado, com o fito de absolvê-la; e a rigidez do mesmo Cristo que ao conceder perdão a Dimas, crucificado a seu lado, mesmo lhe prometendo benesse muito superior, nem por isso, o livrou do cumprimento de sua sentença, em razão dos crimes por ele praticados.
Entendemos, pessoalmente, que um juiz, ao prolatar uma sentença, não é Deus ou qualquer outra força superior que o ser humano acredite, mas sim, pode ser um instrumento aos serviços daqueles.
Mas, para que isso se torne verdadeiramente possível, é necessário que o magistrado, enquanto humano, negue-se a si mesmo, ou seja, não dê ocasião à vaidade, à ira, enfim, não seja contaminado com a causa, mantenha sua imparcialidade, inclusive na condução dos trabalhos e no trato para com as partes; e, ao final, valore as provas de acordo com sua experiência profissional e de vida, explicitando detalhadamente os fundamentos que o levaram a decidir, abstendo-se do que não está nos autos e não foi produzido ou discutido sob o crivo do contraditório.
Parece o caminho do óbvio, mas este singelo trabalho pode servir de base para muitas apelações criminais no cotidiano da nossa Justiça, até que um dia, possamos evoluir para um sistema melhor e ainda mais seguro para as partes.
[1] Beccaria, Cesare Bonesana, Marchesi di, 1738-1794; In DOS DELITOS E DAS PENAS; tradução Lucia Guidicini, Alessandro Berti Contessa; revisão Roberto leal Ferreira – 4ª Edição – São Paulo: Editora WMF Martins Fontes 2019; pág 41.
[2] Gênesis 14:18-20
[3] Referências bíblicas a Urim e Tumim: Êxodo 28:30; Levítico 8:8; Números 27:21; Deuteronômio 33:8; I Samuel 28:6; Esdras 2:63; Neemias 7:65;
[4] TORNAGHI, Helio, Instituições de Processo Penal. Rio de Janeiro: Forense, v. IV, 1959, p.210.
[5]Site Mega Curioso, disponível em: https://www.megacurioso.com.br/artes-cultura/121270-ordalia-a-pratica-medieval-bizarra-de-julgar-aos-olhos-de-deus.htm
[6] Idem 5
[7] TORNAGHI, Helio, Instituições de Processo Penal. Rio de Janeiro: Forense, v. IV, 1959, p.212.
[8] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, v. II, 1985, p. 382.
[9] COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos princípios gerais do processo penal brasileiro. In: Revista da Faculdade de Direito. Curitiva: UFPR, ano 30, n. 30, p. 196, 1998.
[10] BRUM, Nilo Bairros de. Requisitos retóricos da sentença penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980, p. 55.
[11] MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Rio de Janeiro: Forense, v. II 1961, p. 299.